
Eu não morro de amores pela Dra. Cardona. Acho que a sua escolha para a Justiça se ficou a dever exclusivamente à estreita ligação que mantinha com Portas e a algumas suas necessidades estratégicas de circunstância. No Governo praticamente não se dá por ela e, para sua infelicidade, esteve gravemente doente. Porém, neste episódio dos descontos dos funcionários do seu Ministério, Cardona foi literalmente lançada às feras. Primeiro, pela baralhada discursiva e inócua do seu secretário de Estado. Depois, pelo silêncio incomodado e pela falta de solidariedade do seu mentor e lider, cujos traços mais impressivos do seu carácter se revelam nestes momentos. Finalmente porque o primeiro-ministro, só depois de devidamente "picado", lhe manifestou vaga confiança. Se a matéria que deu azo a este desconforto nas hostes maioritárias é séria, como parece que é, então também um outro ministério, o das Finanças, aparece pelo meio. Mas desta casa não se falou. Et pour cause. O episódio vale o que vale e porventura haverá por aí um relativo manancial de situações idênticas que suavemente virão a lume. Cardona foi apanhada no fogo das dissenssões subterrâneas que grassam na contentinha maioria, dentro do PSD, e entre o PSD e o pequeno partido à sua direita. É provável que depois disto já tenha percebido qual é o seu lugar e o que é que ele vale na contabilidade dos interesses da coligação. A imagem de Celeste Cardona, ontem, sentada na bancada do Governo, era apenas a de uma mulher sozinha.
 Soares é fixe...
Soares é fixe...


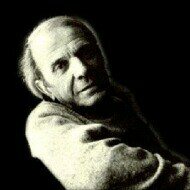
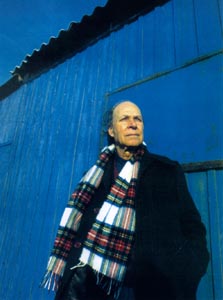








 de Salvador Dalí
de Salvador Dalí Edith Piaf
Edith Piaf Lawrence Durrell, autor de O Quarteto de Alexandria
Lawrence Durrell, autor de O Quarteto de Alexandria Konstandinos Kavafis
Konstandinos Kavafis